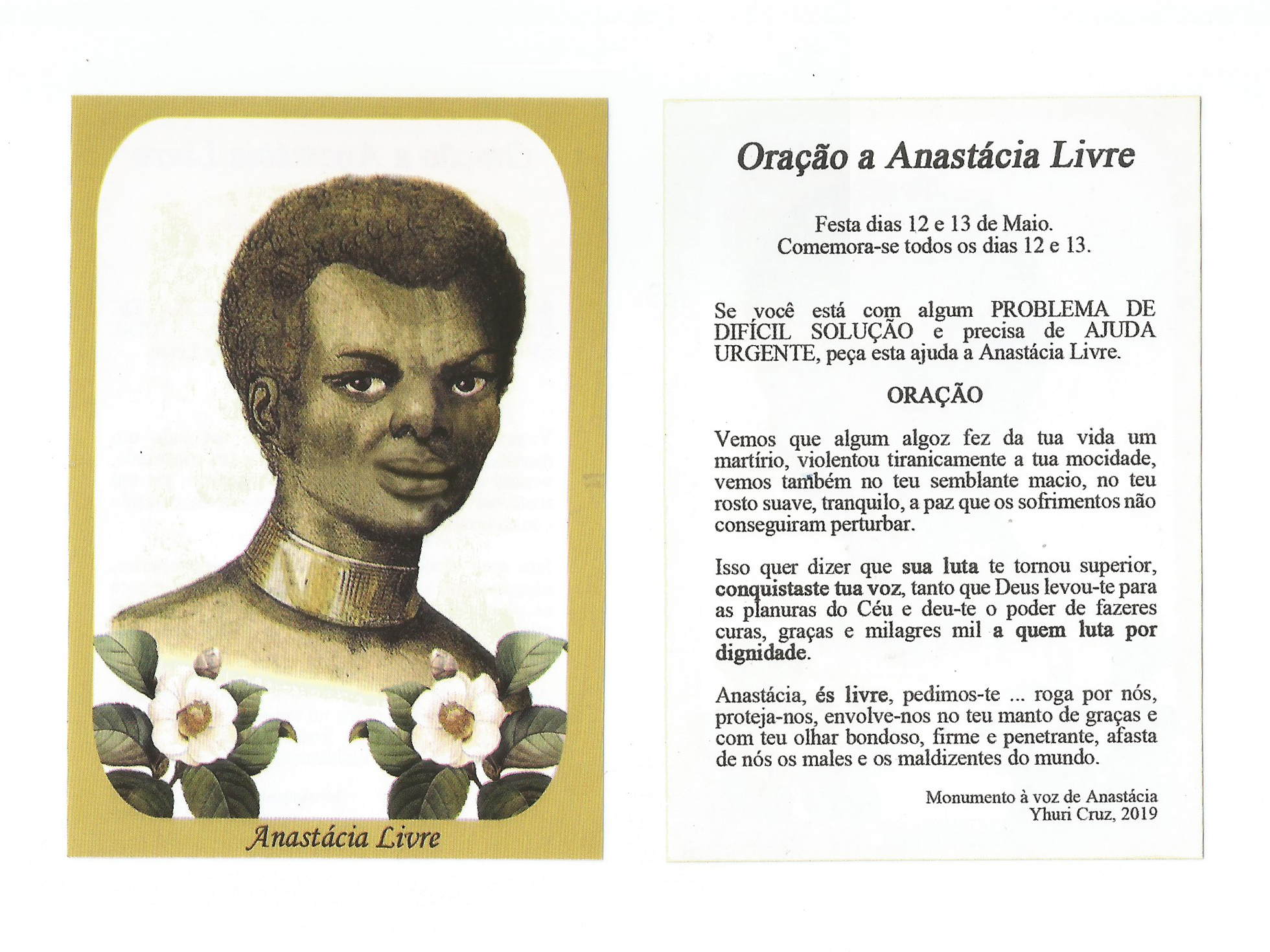Rastros e restos nos interessam
Quem tem direito à cidade? Museu é lugar de estátua? Quantas cidades podemos conhecer em um museu? Sobre que cidades nos contam os museus? Os museus preservam o que queremos ou o que não querermos mais? O texto a seguir, embora escrito sob a inspiração de perguntas dessa natureza, não oferece respostas, mas é um convite para pensar sobre elas e, quem sabe(?) elaborar ainda mais perguntas?
Por Aline Montenegro Magalhães
A derrubada e o lançamento ao rio da estátua do comerciante de escravos Edward Colston, na Inglaterra, no curso das manifestações, lideradas pelo movimento Black Lives Metter, de repúdio ao assassinato do negro Gerorge Floyd, pelo policial branco Derek Chauvin, nos Estados Unidos, repercutiu, e ainda repercute, de várias maneiras pelo mundo.
Aqui no Brasil, embora monumentos tenham sofrido intervenções, nem sempre artísticas, não houve registro de derrubada ou remoção de estátuas motivadas pela causa antirracista. Mas o debate correu solto em tempos de aprisionamento, ganhando o espaço das mídias digitais e redes sociais. Nós mesmos aqui no Exporvisões fizemos uma série de artigos dedicados ao tema, “Memórias em disputa, monumentos em litígio”.
Participei de alguns webinários e lives refletindo sobre o que significaria o deslocamento, para os museus, de monumentos indesejados na cidade, por exaltarem personalidades que tiveram responsabilidade na violência e opressão em períodos históricos, como o passado escravista. Afinal de contas, se praças e ruas não são espaços dignos para ostentarem personas non gratas, a saída seria seu confinamento em um museu? Não foram poucos os que ventilaram essa solução. Solução, inclusive conciliadora, porque embora solucionasse o problema da injusta ocupação do espaço aberto, poupando os transeuntes de sua presença, evitava-se falar em destruição, sendo o caminho do museu outra forma de conservação.
Nesses eventos, como não poderia deixar de ser, tomei o Museu Histórico Nacional como estudo de caso. Iniciava a conversa questionando qual seria o papel do museu nesse caso. Um esconderijo? Um castigo? Um depósito de coisas que não se quer mais? Outro lugar de celebração?
É possível que ainda paire sobre as cabeças a ideia de que museu é lugar de coisas velhas, obsoletas que não se deseja mais. E que essa ideia estivesse por trás da sugestão do museu como destino dos monumentos contestados.
Mas vale sublinhar que Museu não é isso, pelo contrário, é um lugar voltado para a preservação e a divulgação justamente do que se deseja lembrar, e não esquecer; do que se quer conhecer e reconhecer. Então, se o monumento não tem mais valor para ocupar o centro urbano, porque teria dentro do museu? O que se espera do museu como nova moradia de personalidades em pedra ou em bronze que perderam seus postos nas praças e ruas?
No Museu Histórico Nacional, posso afirmar que, no acervo, não há estátuas nem fragmentos de destruições ou remoções dessa natureza. Há modelos de bustos e conjuntos escultóricos, cuja versão final até hoje ocupa o espaço público, a exemplo dos estudos de Louis Rouchet para compor a estátua equestre de d. pedro I, na atual Praça Tiradentes. São três índios representando os principais rios do Brasil: o Madeira, o São Francisco e o Paraná. Tem até modelo escultórico em gesso que não chegou a virar bronze. Produzido pelo artista Francisco Manuel Chaves Pinheiro, representa d. Pedro II em um cavalo em alusão ao episódio da Guerra do Paraguai, ops, da Tríplice Aliança, conhecido como a “Rendição de Uruguaiana”. Embora tenha gostado do que viu, o imperador não autorizou sua realização, destinando o dinheiro que seria gasto em tal feito, para a construção de escolas.

Em relação a vestígios de vandalismo e destruição, lembramos o quadro de d. Pedro II que já foi tema de artigo por aqui. As marcas do golpe de espada em sua face foram consideradas troféu da vitória da República contra a monarquia.
Já no que se refere a rastros e restos, o que há são vestígios de arquitetura de destruições empreendidas pelo poder público nos processos de adequação das cidades aos padrões de modernidade em jogo. Pia de água benta que integrava a primeira Sé da Bahia, de finais do século XVI, destruída para dar lugar aos trilhos dos bondes que nem chegaram a passar pela área. Aldrava da casa atribuída à Marília de Dirceu, retirada pelo próprio diretor à época, Gustavo Barroso, antes que viesse ao chão para dar lugar a uma escola, em Ouro Preto (MG). Pedras do Convento d’Ajuda derrubado para a construção de um hotel onde hoje encontra-se a praça Floriano Peixoto, mais conhecida como Cinelândia, no Rio de Janeiro. E, também da “Cidade Maravilhosa”, entre tantos fragmentos do Morro do Castelo, derrubado entre 1922 e 1928, azulejos do Convento dos Jesuítas.
Me detenho ao desmonte do Morro do Castelo e seus vestígios musealizados porque consistiu em uma ação violenta do poder público, não só de destruição do patrimônio ali preservado, como o Forte do Castelo, Igreja e Convento dos Jesuítas, mas, principalmente, pela remoção dos moradores que ali viviam. População pobre à qual estava sendo negado o direito à moradia numa área central da cidade, onde seria instalada a Exposição Internacional Comemorativa do Centenário da Independência do Brasil, em 1922.
O MHN coletou vestígios das edificações ligadas ao Estado, como fragmentos do frontal da Fortaleza do Castelo, e à Igreja, como o frontal da Igreja dos Jesuítas, e os azulejos do convento. Dos antigos moradores ficaram algumas vozes gravadas, que atualmente integram o acervo do Museu da Imagem e do Som. Nenhuma parte do telhado, nenhum tijolo de parede, o que invisibiliza essas pessoas que viviam no século XX, reduzindo a antiga colina aos tempos coloniais.
À coleção de fragmentos do Morro do Castelo, juntou-se, em 2018, a do Museu das Remoções, que reuniu escombros das casas dos moradores da Vila Autódromo, Rio de Janeiro. Moradores que foram removidos e assistiram à destruição de suas residências, de sua comunidade, pela prefeitura empenhada nas obras de preparação da cidade para a realização das Olimpíadas de 2016.
Constituída por destroços, como revestimentos de paredes, basculantes, bomba d’água e azulejos de piscina, a coleção do Museu das Remoções, assim como os fragmentos do Morro do Castelo são documentos históricos com os quais podemos conhecer processos de remoções de comunidades da cidade, em diferentes momentos. São vestígios que, com sua pedagogia, nos ensinam sobre as lutas por moradia, o direito à cidade e a criminalização da pobreza, enriquecendo as abordagens sobre a história representada no MHN.

E as estátuas? Pois bem, creio que sua presença na cidade seja a melhor decisão. É mais potente, justamente por incomodar. Sua remoção esvazia as possibilidades de múltiplas relações, entre as quais, as diversas intervenções que denunciam, ensinam e atribuem outros valores ao monumento.

Mas, e se por acaso acontecer de chegar alguma estátua, inteira ou destroçada, no museu? Não será castigada, escondida ou celebrada, mas sim, exposta como um documento sobre as disputas de memória e as lutas por reparação histórica. Com sua pedagogia, juntar-se-á aos fragmentos de arquitetura, a nos ensinar sobre as lutas contra violências e injustiças do passado, que insistem em se fazer presentes, fragmentando a sociedade em desigualdades e negação de direitos. Afinal, é com vestígios do passado e do presente que escrevemos história, por isso, rastros e restos, nos interessam, sim.
P.S.: Não poderia deixar de registrar meu sincero agradecimento ao Mário Chagas, diretor do Museu da República e à diretoria do Museu das Remoções: Sandra Maria Teixeira, Maria da Penha Macena e Luiz Claudio Silva, pela curadoria compartilhada em todo o processo de muselização dos escombros das casas da Vila Autódromo no Museu Histórico Nacional, com a qual tanto tenho aprendido. Agradeço também aos participantes do Grupo de Pesquisa Escritas da história em museus: objetos, narrativas e temporalidades, vinculado ao MHN e do Grupo de Estudos sobre Politicas de Preservação do Patrimônio Cultural, vinculado à Unirio. Além de terem me inspirado muito nas reflexões aqui compartilhadas, têm proporcionado encontros, conversas, aprendizado e muito afeto; momentos de alento, trocas, recarga de ânimo e esperança, em meio ao isolamento desses tempos pandemônicos.