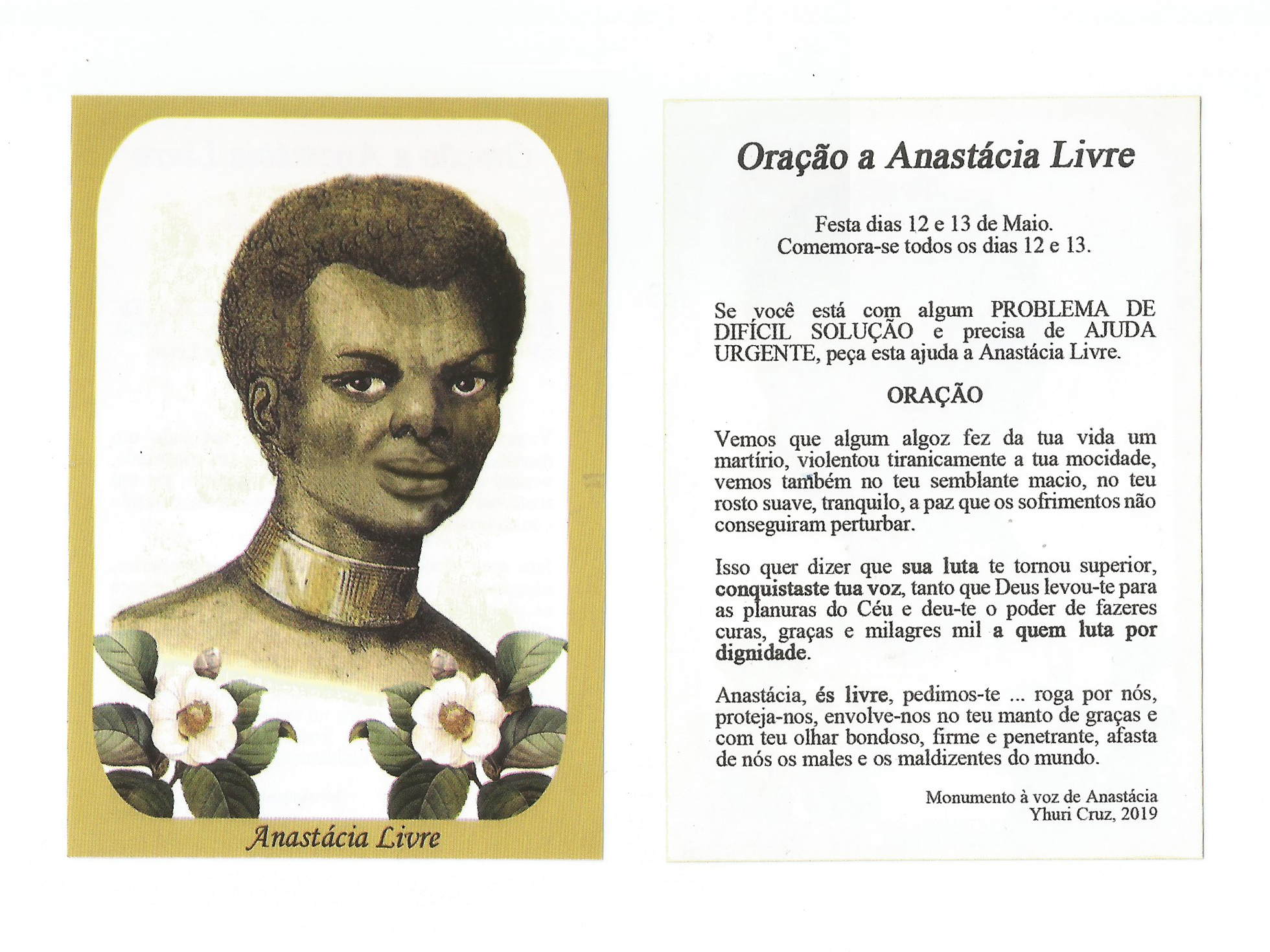O Museu Mariano Procópio faz cem anos: o que celebrar?
por Carina Martins

Em 1921, o colecionador Alfredo Ferreira Lage abriu seu museu particular ao público em Juiz de Fora (MG), disputando, assim, as narrativas nacionais em torno do Centenário da Independência, momento importante na criação e ajustes dos museus históricos no país. No ano posterior, no simbólico 13 de maio, a Galeria Maria Amália foi inaugurada.
Um século depois, o cenário de efervescência e de projeção da cidade para além de suas fronteiras, ainda que na chave memorialista do Império, transformou-se em uma ilha de desencanto. Cercado pelo belíssimo e suntuoso Parque de mesmo nome, os edifícios que compõem o Museu Mariano Procópio foram fechados para obras de restauração há mais de uma década, com abertura parcial e episódica da galeria Maria Amália e exposições tipológicas do acervo, que pouco ou nada problematizam as coleções. É a versão “chá das cinco” da memória nacional: você pode furtivamente entrar, olhar, mas certamente a admiração não decorre de pertencimento, assombro intelectual ou alargamento de horizontes.
Dia 10 de janeiro é comemorado o aniversário do fundador, cujos restos funerários repousam à frente do Museu. Sempre achei macabra a presença da família Ferreira Lage em ossos vigiando o legado, em um obelisco que conecta a eternidade. O Museu seria também um mausoléu de memórias cristalizadas? Parece que era esse o desejo do colecionador que, ao doar o complexo para o município, em 1936, deixou cláusulas perpétuas em relação à denominação de salas e criou o Conselho de Amigos do Museu, formado por representantes da elite da cidade que, ainda hoje, repõe simbolicamente, a cada substituição, sua proposta original.
A cada gestão municipal, o Conselho encaminha uma lista tríplice de nomes para o/a prefeito/a eleito/a, historicamente composta por seus próprios membros. Assim, o projeto de memória vai se transformando em mármore, com pouca porosidade aos desafios contemporâneos e às demandas pela função social dos museus, sobretudo em um país tão desigual como o nosso, no qual o direito à memória é privilégio de poucos.
O encastelamento de tão importante instituição cultural, que conta com um acervo muito significativo do século XIX, torna o Museu cada vez mais alheio às múltiplas vozes e demandas memoriais. O sentido patrimonialista marcante decorrente de tais características e de uma gestão pública de mais de quatro décadas liderada pela família, amplia tal distanciamento.
Ora, se o ônus da manutenção é pública, por que sua gestão não o é? Se o Museu é nosso, por que não nos sentimos representados por ele? Se sua principal missão é compreendida pelos gestores como a preservação, por que mantê-lo se for para poucos terem acesso? Teremos que alfabetizar as traças, as únicas assíduas frequentadoras da biblioteca de obras raras? Patrimônio é processo, não é estanque no tempo. Patrimônio é campo de disputa e tensão, não é pacífico, não é neutro, não é genuinamente um bem.
O Museu Mariano Procópio esconde suas marcas de sangue: a origem da fortuna da família Armond sob o suor de um dos maiores plantéis de escravos e o alinhamento e a musealização da Ditadura Militar já a partir de 1966. Certamente, haverá muitas outras que a interdição à pesquisa protege temporariamente.
Como juizforana que sou, me apaixonei por aquele lugar na infância e tenho a clássica fotografia no canhão. Ao longo de minha caminhada formativa, fiz do Museu espaço de encantamento, de lazer, de educação, de sonhos, de pesquisa, de trabalho e de produção intelectual e pedagógica. Fiz parte da primeira gestão da Fundação Mariano Procópio sob a batuta do saudoso Mello Reis e procurei, junto com uma apaixonada equipe, conectar a instituição à comunidade, aos bairros, às demandas sociais. Foram anos de muito trabalho e luta, de enfrentamento do abandono, das paredes invisíveis do patrimonialismo e da interferência política de interesses privados. Posteriormente, escrevi minha tese de doutorado sobre ações educativas da diretora Geralda Armond, mesmo com acesso interditado aos arquivos institucionais.
Tive, assim, oportunidade de conhecer muitas pessoas, pessoalmente e também nos livros, nos documentos, nos relatórios e nos artigos na imprensa, que amaram e lutaram pelo Museu. Impossíveis nomeá-las em curto post, certamente foram e são responsáveis por sua perenidade. São gerações de profissionais e amantes do Museu que o fizeram e o fazem vivo, ainda que em condições muitas vezes duras e pouco favoráveis. O Museu é uma complexa rede de fios, também com muitos nós.
Enquanto escrevia minha tese de doutorado, observei tristemente que uma gestão tradicionalista encerrava o Museu em si mesmo, orbitando na retórica de baronesas e leques, de castiçais e plumas, de genealogias reais e imaginárias.
Em um contexto no qual vimos o assalto inescrupuloso de setores conservadores e desqualificados às nossas instituições culturais, como um breve olhar à Biblioteca Nacional, à Fundação Casa de Rui Barbosa e ao próprio IPHAN nos permite diagnosticar, é preciso pensar em outras soluções, a exemplo dos concursos públicos para cargos de direção no Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM). Do contrário, os resultados são previsíveis: desmonte de políticas públicas; apagamento das memórias plurais; alijamento do corpo técnico e científico; aparelhamento institucional; interrupção de programas; censura à pesquisa, ação cultural e educativa. A quem serve um país sem memória?

O Museu Mariano Procópio faz cem anos. Ao olhar pelo retrovisor, podemos perceber um projeto construído em uma intensa rede de sociabilidade que articulava Juiz de Fora ao nacional. Podemos louvar seu acervo, mensurá-lo em importância, orgulhar de objetos e pinturas e mesmo idealizar o mecenas. Isso é pouco, quase nada. Um museu tem três pés: pesquisa, preservação e comunicação. Um museu tem três tempos: passado, presente e futuro. O Museu teve três donos: o fundador, o município e, principalmente, seu povo. Esquartejá-lo como lugar de preservação de um passado nostálgico é destituí-lo de sua potência. Afinal, que museu é este? Se for nosso e alheio a nós; se for nosso e abandonado pelo poder público; se for nosso e engolido pelo tempo, o que teremos a comemorar?
Escrevi há 10 anos, em minha tese de doutorado, que o maior castigo de um museu é encerrar-se em si mesmo. Eu me pergunto – não é a hora do Museu sentar-se à mesa e dialogar sobre quais futuros queremos para ele? Não é a hora do Museu Mariano Procópio aliançar esforços para ser uma plataforma de futuros, e não um observatório do passado? Não passou da hora do poder público dotar recursos e reforçar e ampliar o quadro técnico qualificado para que o Museu siga seu caminho com autonomia?
Queremos a seiva da vida pulsando no Mariano Procópio e a retirada dos lodos institucionais. Queremos celebrar sua existência com um convite ao banquete polifônico da arte, ciência e memória.
[cite]